Já a tempestade cessara por completo e o sol espreitava envergonhadamentre por entre as espessas nuvens cinzentas, carregadas de mais doses épicas de chuva a descarregar mais tarde nesse dia, porventura ao final da tarde ou mesmo durante o almoço, quando a janela do quarto de cima, última porta à direita no corredor que nascia das gloriosas escadas de mármore malhado e corrimão de carvalho envernizado, cessou por completo, num seco e forte baque. Um ligeiríssimo raio de sol matinal iluminou o que então não era inédito, mas algumas horas mais tarde e teria sido o escândalo absoluto dos Alves Antunes e toda a história daquela boa família e respeitada casa.
De longe, não passava de uma silhueta escura, mas ao perto identificávamos um corpo masculino envolto num casaco de cabedal preto e calças de ganga esfoladas nas áreas trazeira e em volta dos joelhos. Um longo escadote de madeira, de aparência demasiado frágil para segurar sequer uma criança, esperava-o, pendurado naquela janela como se todos os eventos decorridos atrás daquelas paredes sagradas desde sempre estivessem planeados, ou mesmo como se toda a sua vida, a vida daquelas paredes Crstãs, aquele escadote sempre ali tivesse estado, e sempre com o mesmo destino. Era como se a menina – e no entanto, já mulher – que largava janela fora o seu Romeu o fizesse já com uma prática plena de sabedoria, com uma nobreza de gesto tal que familiaridade com tamanho crime assim só mesmo por herança genética, e quem o visse fazer, poderia vir a crer que a mamã fizera o mesmo com a sua idade – e fosse esse o caso, ainda a má língua girava para onde lhe aprovesse mais e estalava entre os dentes: “Gente católica é o que se vê”.
Do outro lado da janela, a menina, já mulher, tocou com as pontas dos dedos ainda ligeiramente suadas nos lábios um pouco carnudos, ainda sentido a forma quente dos lábios alheios que lentamente se lhe ia desvanecendo, o fogo leve daquele beijo que, antes de cerrar por completo a janela, ele lhe espetara com brusquidão, prometendo que no dia seguinte, estaria lá – fosse onde lá fosse – à sua espera, à mesmoa hora – fosse a que horas fosse. Como se ainda fosse adolescente, girou sobre os calcanhares e saltitou o seu caminho até ao closet pessoal.
Ignorou o toque constante do alarme despertador atrás de si, poisado na mesa de cabeceira ao lado da fotografia sua e de sua irmã. Como uma bonita menina, digna portadora do título de filha de uma Alves Antunes, a menina nada fez e esperou. A rotina era o que melhor poderia definir as suas vidas, de acordo com a moça. Esperou que, dentro de cerca de cinco minutos, a empregada, a dona Josefa, lhe batesse à porta do quarto com três toques secos com os seus nós dos dedos esguios e subnutridos e dissesse “Menina Leonor, são horas de acordar.” E talvez vinte – ou quem sabe até trinta, dependendo da disposição com que os Alves Antunes progenitores haviam acordado naquela manhã tempestuosa – minutos depois, voltaria a dona Josefa, senhora cabisbaixa, divorciada e com três filhos emigrados na França a viver com a sua prima que, por obra e graça do Espírito Santo, deixara de saber falar Português, ainda que para lá se tenha mudado com alguns bons dezasseis anos; e as criancinhas, essas, que aprenderam a libertar-se do diminutivo naquele país de evolução a Portugal incomparável, essas se haviam perdido nos dialectos franceses, que era oui madames para aqui, e mais, monsieur, je ne croix pas en ce que vous dit, cantando Edith Piàf por aqui e por ali, e mais algumas pouco ortodoxas misturas de palavras desse tal novo estilo chamado de Rap, e do pouco português que sabiam, limitava-se a três palavras, Pastel de Nata, que se vira a mãe obrigada a escrever a cartinha de Natal em francês, em que junto desta lhes enviava uma caixinha de pastéis de Nata – tinha lá agora dinheiro e tempo para a coisa genuína que era o pastel de Belém – e se havia coisa que as crianças haviam recordado era das palavras Pastel de Nata. Tao engraçado lhe acharam que assim nomearam o gatinho rafeiro.
Mas menina Leonor esqueceu todas estas barbaridades – se é que alguma vez se atreveram a atravessar-lhe o espírito – quando retirou a farda escolar do Colégio e a encostou ao corpinho delgado defronte do espelho de corpo inteiro preso à parede do fundo do seu closet, não porque alguma vez achasse que aquele maldito molho de trapos amarelos e pretos alguma vez lhe ficassem bem, mas porque imaginou como seria aquele dia de regresso às aulas ao colégiozinho de freiras, como lhe costumava chamar, principalmente agora que era finalista e podia, como também era recorrente dizer a si mesma ou às amigas, “mandar a irmãzinha bugiar com mais estilo”, que semple clamava que não lhe largava o pé com lamechices católicas.
Banho tomado, fresca e lavadinha, a menina parou defronte do espelho da casa de banho e penteou-se enquanto lentamente construía os passos a seguir no dia que aí vinha. Manipuladora, imprevisível mas infalível pensadora nos seus planos, assim se pintava a imagem mais negativa que se podia da menina Maria Leonor dos Alves Antunes, que com um sorriso de malvadez colado aos lábios que deveriam ser puros, mas que apenas minutos antes um jovem arruaceito de cabedal e ganga rasgada roubara todo o pudor – e quem sabe que mais –, rasgava os cantos da boca e exibia os dentes primorosamente esbranquiçados pelo dentista, curiosamente o mesmo que o Dr. Tallon, perfeitinhas mas de perfeição fabricada por aparelhos ortodônticos colocados na menina quando ainda tinha treze anos, perfeição essa que agora, outros miúdos de treze anos usufruíam, mas a menina chamava-os de “Caminhos de Ferros” ou “Pára-choques”. Assim, a menina sorria defronte do espelho enquanto passava a escova pelos cabelos curtos vermelhos vivos, que lhes aparecera um dia, aos Alves Antunes, a sua filha mais velha de cabelos pintados daquela cor, da cor do vinho, vermelho escuros – que àquela altura, meses depois, se parecia mais com cor de barro – e todos eles cortados, cortadinhos pelo pescoço; aquela menina, que tinha um cabelo tão bonito quando era apenas mocinha, longos cabelos lisos com aquelas ligeiras e naturais curvas que lhe emolduravam a cara numa perfeição idêntica à de uma estátua romana, com pequeninos caracóis a coroarem-lhe a testa pequena, clarinhos, dourados, e depois escureciam em pequena e suaves ondas que lhe roçavam os ombros nus se entrelaçavam alguns nas alças do vestidinho azul bebé que se atavam com um lacinho ao pé do pescoço. Mas esta, era a visão dos pais, dos papás babados que fizeram tudo – ou pensaram que sim – para que auqela menina crescesse à imagem reflectida de uma Debutante, mas nos limites da aparência apenas.
Depois dos cabelos curtos que lhe deixavam a descoberto o fino, pálido e atrevido pescoço estarem rebeldemente penteados, em pontas irrequietas que se movimentavam conforme a sua dona andava e lançava a mescla de cabelo longa que lhe cobria praticamente um olho – a longa e brilhante franja – para trás e para a frente, enfiou-se apressadamente no uniforme amarelo e preto do Colégio e só entao bufou perante a realidade de, segundo ela própria, “se assemelhar a uma estúpida abelha só porque andava num Colégio de Purezas e Marias da Encarnação”, e com uma preguiça proporcional ao ódio que projectava para quele uniforme de saia amerela curta, de meias pretas com riscas amarelas a formarem losângos e de pólo preto com o emblema escolar directamente sobre o coraçao – quer os alunos gostassem ou não – que escondia uma camisa branca, ela puxou da gavetinha da sua mesinha de cabeceira e, revirando os olhos numa clara e implícita expressão de desprezo, puxou do pequeno crussifixo muito dourado e muito adornado, quase uma cópia exacta do da irmãzinha – mas claro que não o era, afinal, um Alves Antunes que era digno de portar esse nome tinha de ter o seu personalizado crussifixo só para si – e deitou-o pelo pescoço abaixo. E mal o faz, eis que as suas previsões se tornam realidade, e a rotina dos Alves Antunes não é mito, mas sim a mais pura das consequências de quem pouco faz e muito ganha: a dona Josefa bate à sua porta, exactamente vinte e três minutos depois, e grita-lhe “Menina Leonor, venha tomar o pequeno-almoço que os seus pais já se encontram na sala de refeições.”
E, abrindo a porta quando a pobre já lhe virava as costas, fazendo a mulher soltar um pulo, levar as mãos ao peito e clamar por nossa Senhora muito baixinho, ela sorri e diz “Obrigada, Zé” e assim deixa claro o tipo de relação que a Menina Leonor Alves Antunes, filha de Luísa Isabel de Castro Laurinda Sousa Rodrigues e de João Dinis da Cunha dos Alves Antunes, quando eis que a moça lhe mete o braço direito sobre os ombros e assim descem as escadas, e mal atingem o chão homogéneo daquele mármore claro, digno de quem foi importado talvez de Goa, se não de Damão, a moçalhe larga os ombros e segue para a sala de refeições onde, assim que atravessa a porta, lhe atira a mãezinha, sempre sem levantar os olhos do pãozinho integral que vai barrando com creme vegetal à base de soja com a faquinha de prata do serviço que recebera como prenda de casamento dos van Dousen, lhe diz: – Bom dia, Nonô. Deus nos ajude, que esteve uma tempestade de aterrorizar até os anjos hoje.
E sorrindo com desdém, também ela sem levantar os olhos do seu próprio pãozinho – integral ou não, não o sabia: – Eu certamente que não o poderei dizer, mamã. Não ouvi nada. Dormi que nem um anjinho no céu.
De longe, não passava de uma silhueta escura, mas ao perto identificávamos um corpo masculino envolto num casaco de cabedal preto e calças de ganga esfoladas nas áreas trazeira e em volta dos joelhos. Um longo escadote de madeira, de aparência demasiado frágil para segurar sequer uma criança, esperava-o, pendurado naquela janela como se todos os eventos decorridos atrás daquelas paredes sagradas desde sempre estivessem planeados, ou mesmo como se toda a sua vida, a vida daquelas paredes Crstãs, aquele escadote sempre ali tivesse estado, e sempre com o mesmo destino. Era como se a menina – e no entanto, já mulher – que largava janela fora o seu Romeu o fizesse já com uma prática plena de sabedoria, com uma nobreza de gesto tal que familiaridade com tamanho crime assim só mesmo por herança genética, e quem o visse fazer, poderia vir a crer que a mamã fizera o mesmo com a sua idade – e fosse esse o caso, ainda a má língua girava para onde lhe aprovesse mais e estalava entre os dentes: “Gente católica é o que se vê”.
Do outro lado da janela, a menina, já mulher, tocou com as pontas dos dedos ainda ligeiramente suadas nos lábios um pouco carnudos, ainda sentido a forma quente dos lábios alheios que lentamente se lhe ia desvanecendo, o fogo leve daquele beijo que, antes de cerrar por completo a janela, ele lhe espetara com brusquidão, prometendo que no dia seguinte, estaria lá – fosse onde lá fosse – à sua espera, à mesmoa hora – fosse a que horas fosse. Como se ainda fosse adolescente, girou sobre os calcanhares e saltitou o seu caminho até ao closet pessoal.
Ignorou o toque constante do alarme despertador atrás de si, poisado na mesa de cabeceira ao lado da fotografia sua e de sua irmã. Como uma bonita menina, digna portadora do título de filha de uma Alves Antunes, a menina nada fez e esperou. A rotina era o que melhor poderia definir as suas vidas, de acordo com a moça. Esperou que, dentro de cerca de cinco minutos, a empregada, a dona Josefa, lhe batesse à porta do quarto com três toques secos com os seus nós dos dedos esguios e subnutridos e dissesse “Menina Leonor, são horas de acordar.” E talvez vinte – ou quem sabe até trinta, dependendo da disposição com que os Alves Antunes progenitores haviam acordado naquela manhã tempestuosa – minutos depois, voltaria a dona Josefa, senhora cabisbaixa, divorciada e com três filhos emigrados na França a viver com a sua prima que, por obra e graça do Espírito Santo, deixara de saber falar Português, ainda que para lá se tenha mudado com alguns bons dezasseis anos; e as criancinhas, essas, que aprenderam a libertar-se do diminutivo naquele país de evolução a Portugal incomparável, essas se haviam perdido nos dialectos franceses, que era oui madames para aqui, e mais, monsieur, je ne croix pas en ce que vous dit, cantando Edith Piàf por aqui e por ali, e mais algumas pouco ortodoxas misturas de palavras desse tal novo estilo chamado de Rap, e do pouco português que sabiam, limitava-se a três palavras, Pastel de Nata, que se vira a mãe obrigada a escrever a cartinha de Natal em francês, em que junto desta lhes enviava uma caixinha de pastéis de Nata – tinha lá agora dinheiro e tempo para a coisa genuína que era o pastel de Belém – e se havia coisa que as crianças haviam recordado era das palavras Pastel de Nata. Tao engraçado lhe acharam que assim nomearam o gatinho rafeiro.
Mas menina Leonor esqueceu todas estas barbaridades – se é que alguma vez se atreveram a atravessar-lhe o espírito – quando retirou a farda escolar do Colégio e a encostou ao corpinho delgado defronte do espelho de corpo inteiro preso à parede do fundo do seu closet, não porque alguma vez achasse que aquele maldito molho de trapos amarelos e pretos alguma vez lhe ficassem bem, mas porque imaginou como seria aquele dia de regresso às aulas ao colégiozinho de freiras, como lhe costumava chamar, principalmente agora que era finalista e podia, como também era recorrente dizer a si mesma ou às amigas, “mandar a irmãzinha bugiar com mais estilo”, que semple clamava que não lhe largava o pé com lamechices católicas.
Banho tomado, fresca e lavadinha, a menina parou defronte do espelho da casa de banho e penteou-se enquanto lentamente construía os passos a seguir no dia que aí vinha. Manipuladora, imprevisível mas infalível pensadora nos seus planos, assim se pintava a imagem mais negativa que se podia da menina Maria Leonor dos Alves Antunes, que com um sorriso de malvadez colado aos lábios que deveriam ser puros, mas que apenas minutos antes um jovem arruaceito de cabedal e ganga rasgada roubara todo o pudor – e quem sabe que mais –, rasgava os cantos da boca e exibia os dentes primorosamente esbranquiçados pelo dentista, curiosamente o mesmo que o Dr. Tallon, perfeitinhas mas de perfeição fabricada por aparelhos ortodônticos colocados na menina quando ainda tinha treze anos, perfeição essa que agora, outros miúdos de treze anos usufruíam, mas a menina chamava-os de “Caminhos de Ferros” ou “Pára-choques”. Assim, a menina sorria defronte do espelho enquanto passava a escova pelos cabelos curtos vermelhos vivos, que lhes aparecera um dia, aos Alves Antunes, a sua filha mais velha de cabelos pintados daquela cor, da cor do vinho, vermelho escuros – que àquela altura, meses depois, se parecia mais com cor de barro – e todos eles cortados, cortadinhos pelo pescoço; aquela menina, que tinha um cabelo tão bonito quando era apenas mocinha, longos cabelos lisos com aquelas ligeiras e naturais curvas que lhe emolduravam a cara numa perfeição idêntica à de uma estátua romana, com pequeninos caracóis a coroarem-lhe a testa pequena, clarinhos, dourados, e depois escureciam em pequena e suaves ondas que lhe roçavam os ombros nus se entrelaçavam alguns nas alças do vestidinho azul bebé que se atavam com um lacinho ao pé do pescoço. Mas esta, era a visão dos pais, dos papás babados que fizeram tudo – ou pensaram que sim – para que auqela menina crescesse à imagem reflectida de uma Debutante, mas nos limites da aparência apenas.
Depois dos cabelos curtos que lhe deixavam a descoberto o fino, pálido e atrevido pescoço estarem rebeldemente penteados, em pontas irrequietas que se movimentavam conforme a sua dona andava e lançava a mescla de cabelo longa que lhe cobria praticamente um olho – a longa e brilhante franja – para trás e para a frente, enfiou-se apressadamente no uniforme amarelo e preto do Colégio e só entao bufou perante a realidade de, segundo ela própria, “se assemelhar a uma estúpida abelha só porque andava num Colégio de Purezas e Marias da Encarnação”, e com uma preguiça proporcional ao ódio que projectava para quele uniforme de saia amerela curta, de meias pretas com riscas amarelas a formarem losângos e de pólo preto com o emblema escolar directamente sobre o coraçao – quer os alunos gostassem ou não – que escondia uma camisa branca, ela puxou da gavetinha da sua mesinha de cabeceira e, revirando os olhos numa clara e implícita expressão de desprezo, puxou do pequeno crussifixo muito dourado e muito adornado, quase uma cópia exacta do da irmãzinha – mas claro que não o era, afinal, um Alves Antunes que era digno de portar esse nome tinha de ter o seu personalizado crussifixo só para si – e deitou-o pelo pescoço abaixo. E mal o faz, eis que as suas previsões se tornam realidade, e a rotina dos Alves Antunes não é mito, mas sim a mais pura das consequências de quem pouco faz e muito ganha: a dona Josefa bate à sua porta, exactamente vinte e três minutos depois, e grita-lhe “Menina Leonor, venha tomar o pequeno-almoço que os seus pais já se encontram na sala de refeições.”
E, abrindo a porta quando a pobre já lhe virava as costas, fazendo a mulher soltar um pulo, levar as mãos ao peito e clamar por nossa Senhora muito baixinho, ela sorri e diz “Obrigada, Zé” e assim deixa claro o tipo de relação que a Menina Leonor Alves Antunes, filha de Luísa Isabel de Castro Laurinda Sousa Rodrigues e de João Dinis da Cunha dos Alves Antunes, quando eis que a moça lhe mete o braço direito sobre os ombros e assim descem as escadas, e mal atingem o chão homogéneo daquele mármore claro, digno de quem foi importado talvez de Goa, se não de Damão, a moçalhe larga os ombros e segue para a sala de refeições onde, assim que atravessa a porta, lhe atira a mãezinha, sempre sem levantar os olhos do pãozinho integral que vai barrando com creme vegetal à base de soja com a faquinha de prata do serviço que recebera como prenda de casamento dos van Dousen, lhe diz: – Bom dia, Nonô. Deus nos ajude, que esteve uma tempestade de aterrorizar até os anjos hoje.
E sorrindo com desdém, também ela sem levantar os olhos do seu próprio pãozinho – integral ou não, não o sabia: – Eu certamente que não o poderei dizer, mamã. Não ouvi nada. Dormi que nem um anjinho no céu.
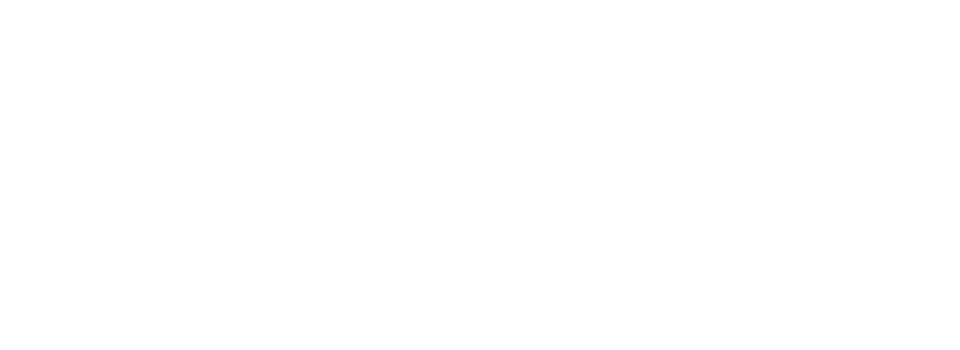
Sem comentários:
Enviar um comentário